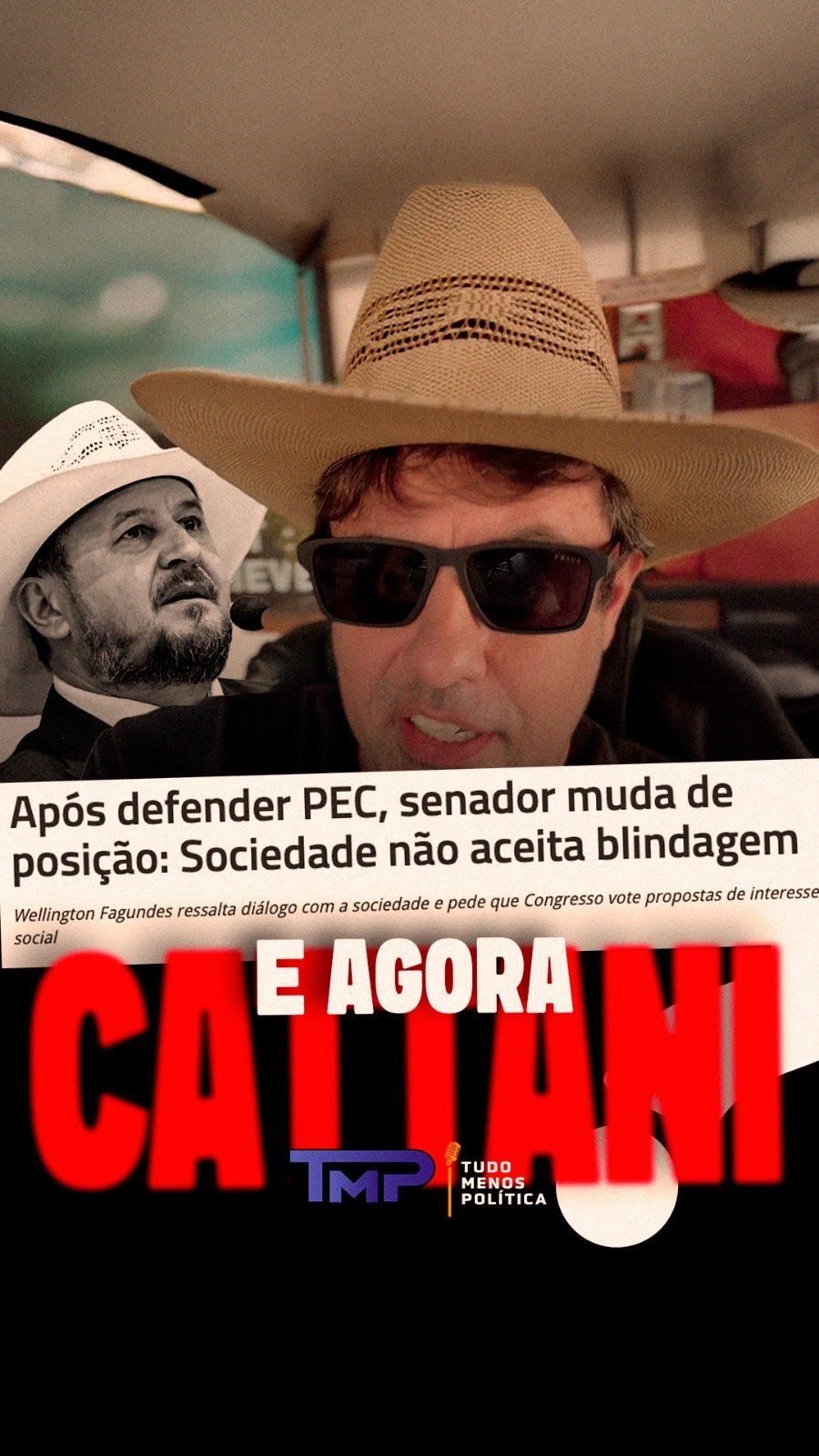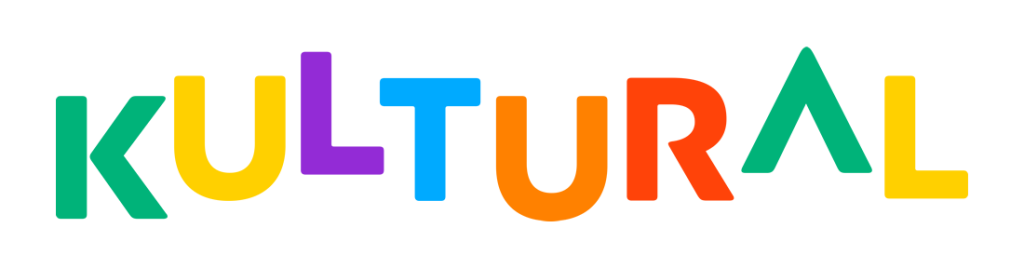Não estamos transgredindo. Estamos existindo.
A morte de Tainara Souza Santos, ocorrida em São Paulo na noite de Natal, não é apenas uma tragédia individual. Ela é um sintoma brutal de uma engrenagem social que naturaliza a violência contra mulheres em um dos países que mais registra feminicídios no mundo. Cada mulher assassinada não é um “caso”, é uma estatística produzida por uma estrutura histórica que organiza poder, valor e legitimidade a partir do masculino. Quando uma mulher morre em razão de seu gênero, não falha apenas o agressor. Falha o Estado, falha a cultura, falha o pacto social.
Não por acaso, esse episódio ecoa simbolicamente outra narrativa fundante da nossa civilização: a de uma jovem mulher pobre, vulnerável e socialmente invisível, que deu à luz em condições precárias, sem proteção institucional, sem amparo político, sem garantias. A figura de Maria não é apenas religiosa, é política. Ela representa a mulher que sustenta a vida em contextos que lhe negam dignidade. O que mudou de lá para cá não foi a estrutura. Apenas a linguagem que a mascara.
Os dados confirmam aquilo que a experiência cotidiana já revela. Informações do Ministério da Justiça e Segurança Pública mostram crescimento expressivo das tentativas de feminicídio nos últimos anos e mais de mil mulheres assassinadas por esse crime em um único ano recente. Isso não é uma anomalia estatística. É um padrão social. O feminicídio é o ponto final de uma cadeia que começa muito antes: na desvalorização do trabalho feminino, na desigualdade salarial, na violência simbólica, no controle dos corpos, no silenciamento político.
Hoje, no Brasil, mulheres recebem, em média, até 37% menos que homens, dependendo do setor, do tipo de ocupação e do recorte racial. O IBGE mostra que elas são menos de 40% das lideranças e menos de 20% nos espaços mais altos de decisão. Relatórios internacionais apontam que apenas cerca de um terço dos empreendimentos são liderados por mulheres. No mundo, segundo a ONU, apenas 63% das mulheres em idade produtiva estão no mercado de trabalho, contra mais de 90% dos homens, e nas economias mais pobres a imensa maioria delas trabalha na informalidade, sem proteção social.
Esses números não são falhas individuais. São evidências de uma arquitetura social construída para manter as mulheres em posição de dependência, vulnerabilidade e menor valor econômico e simbólico. Quando as mulheres ingressaram no espaço público do trabalho, do poder e do saber, não houve redistribuição real das responsabilidades privadas, nem reconstrução das bases econômicas, nem proteção institucional suficiente. Chamaram isso de “igualdade”, mas entregaram sobrecarga. Chamaram isso de “liberdade”, mas mantiveram a punição.
O que vivemos hoje é a reação de um patriarcado ressentido, que responde à perda relativa de poder com violência, controle e punição. Por isso a violência cresce quando a autonomia feminina cresce. Por isso a resistência aparece tanto no lar quanto no parlamento, tanto no salário quanto na agressão.
Não estamos diante de um problema moral. Estamos diante de um problema político. De organização social. De modelo econômico. De distribuição de poder. Combater o feminicídio não é apenas punir agressores depois do fato consumado. É reestruturar as condições que o produzem.
Isso exige políticas públicas robustas: proteção social para mulheres, combate real à desigualdade salarial, ampliação de creches e políticas de cuidado, educação de gênero desde a infância, fortalecimento das redes de acolhimento, investimento em autonomia econômica feminina, responsabilização efetiva do Estado pela prevenção da violência. Exige, sobretudo, que a igualdade deixe de ser uma retórica e se torne uma engenharia institucional.
Não estamos transgredindo nenhuma ordem natural. Estamos apenas rompendo uma ordem injusta. Não estamos pedindo concessão. Estamos exigindo direito. Não estamos buscando privilégio. Estamos reivindicando existência.
Defender a vida de mulheres não é apenas uma questão de justiça social, é uma estratégia civilizatória: é escolher um modelo de sociedade mais cooperativo, mais justo, mais sustentável e mais humano. Uma sociedade que protege as mulheres não está sendo generosa, está sendo racional.
Christiane Pires Atta, empresária e jornalista.
Jornalista – DRT/PR:2359